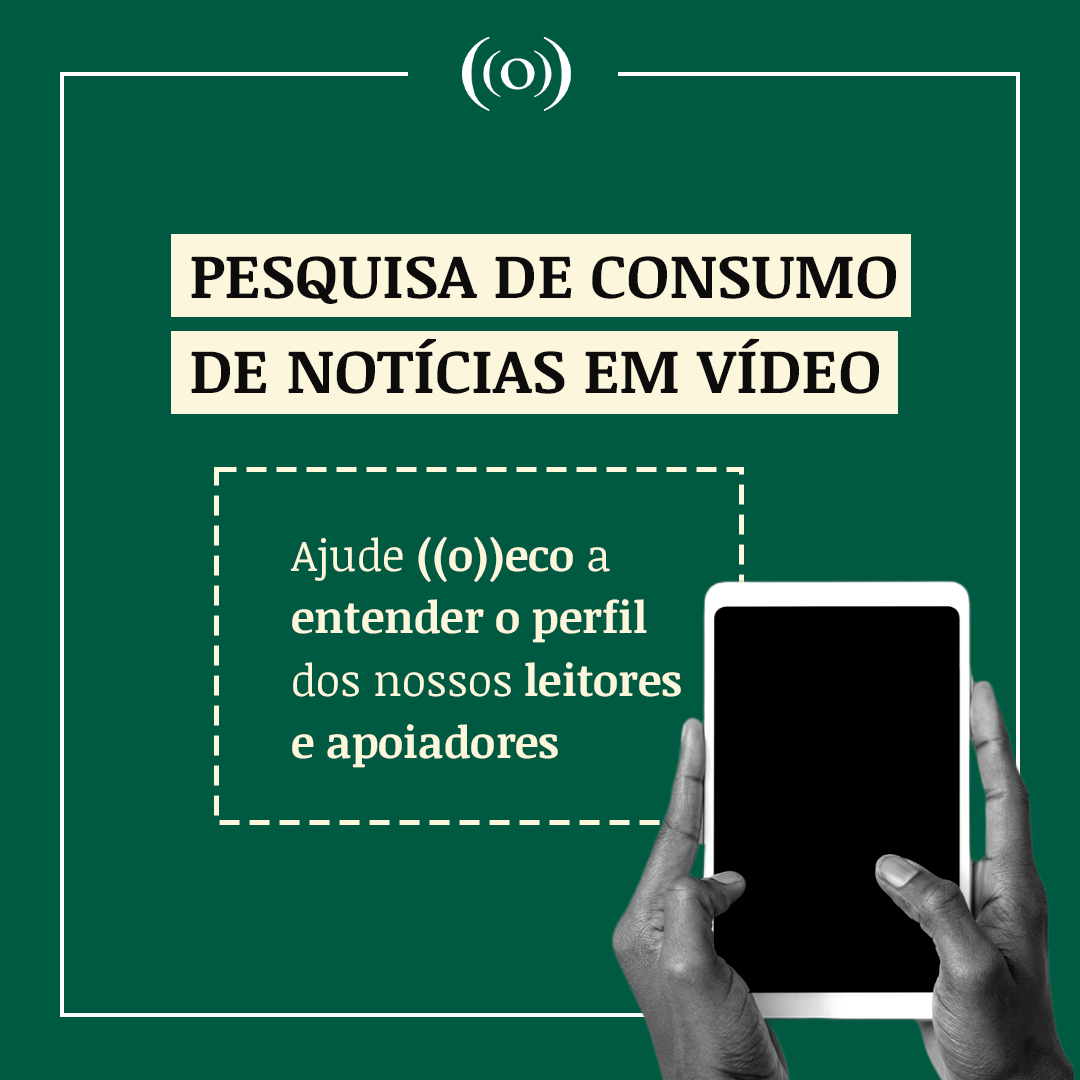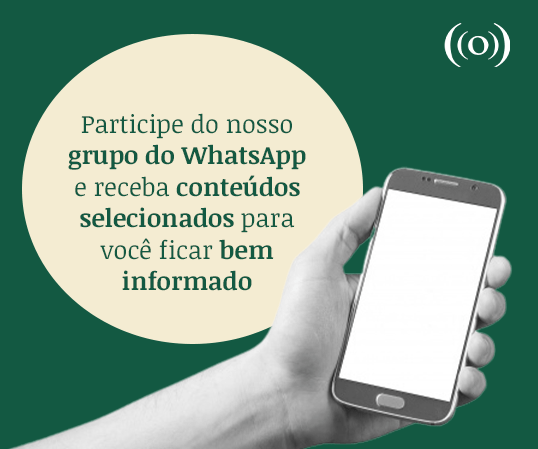Dos imigrantes clandestinos de Nova York, o mais notório ultimamente é o José. Ele chegou lá a nado, dois anos atrás. E construiu por sua conta e risco uma habitação, perto do zoológico do Bronx numa arquitetura para lá de informal – ou pior, a casa “posta de pé cruamente”, como disseram na ocasião os repórteres que cobriram seu début na cidade.
Apesar dos pesares, José teve recepção digna de um visitante ilustre. The New York Times saudou-o como um personagem que não era visto por lá desde o século 18. E, em dezembro passado, quando ele reencarnou, depois de uma breve e sentida ausência, o jornal noticiou sua volta como a “do pródigo”. Ele se tornou uma estrela da longa saga de recuperação ambiental que procura devolver à ilha de Manhattan um pouco do que ela já foi, sem perder nada do que ela é.
Daí sua importância como símbolo vivo de um passado que parecia enterrado 200 anos atrás. Aliás, o nome José vem de José Serrano, deputado de origem portorriquenha que arrancou 15 milhões de dólares dos cofres norteamericanos para a limpeza e recuperação do rio Bronx, cujas margens estavam povoadas por lixo, esgoto e carro velho. José deu-lhe o melhor atestado de que o projto estava funcionando.
Castor de verdade
Até o deputado José Serrano se considerou “homenageado” pelo xará. José é o apelido de um castor, animal outrora tão típico de Nova York que, em sua fundação, ainda como Nova Amsterdã, a primeiro produto comercial que os colonos holandeses despacharam da ponta da ilha para a Europa foram 5.295 peles do bicho, usadas na época como gorros de inverno. E o primeiro milionário tipicamente novaiorquino foi um alemão, naturalizado como John Jacob Astor, que enriqueceu exportando chapéus forrados com pele de castor.
Há dois castores no selo oficial de Nova York. E uma rua chamada Beaver – ou seja, castor – entre a Broadway e a Wall Street, no centro histórico da cidade. Mas nada restaria do ambiente que originalmente o animal habitava, não fosse o esforço de recuperar, na paisagem reticulada por quarteirões de arranha-céus, as colinas e mangues do denário natural que os colonizadores encontraram na ilha em meados do século 17.
É um tipo de mapeamento que, se fosse tentado no Rio de Janeiro, por exemplo, devolveria mais de 60 praias à sua orla, dezenas de ilhas soterradas no centro da cidade, morros inteiros e grandes lagoas, cuja única lembrança são as praças antigas que atualmente dilatam o labirinto de seu tecido urbano. Da paisagem não sobrou nem uma placa, recordando o que os cariocas trocaram pelo progresso descuidado.
Mas Nova York pegou a mania de desencavar seus tesouros naturais, de mapas antigos e relatos históricos, porque reconhecer as perdas irremediáveis também é faz parte do movimento geral para reconciliar a cidade com a natureza. Faltava-lhe, para isso, um castor de carne e osso, nadando livremente na vizinhança da ilha.
Agora não falta mais. A cidade tem seu José, como testemunha de que reaver coisas perdidas na poeira da história está cada vez mais em voga, nos torneios internacionais de elegância, progresso e educação. Se um dia a moda pegar por aqui, quem sabe chegará para o carioca a vez de pelo menos imaginar na baía de Guanabara as baleias que o padre José de Anchieta viu, no século XVI, entre ilhas floridas e praias brancas.
Ostras e sambaquis
Mas, como toda tradição, esta provavelmente também levará tempo. Os brasileiros, por enquanto, estão mais preocupados em reivindicar as prerrogativas do atraso, que supostamente dariam aos retardatários o direito de cometer, agora, os erros que os países ricos perpetraram antes – antes, inclusive, de darem realmente certo na vida. E, para esse debate, Nova York oferece nesta temporada, além do José, personagem de uma extensa reportagem sobre a natureza se Manhattan na revista National Geographic, um livro que tem melhores argmentos do que um castor para inspirar os brasileiros – entre outros motivos, porque trata de ostras, que nós também temos, e já saiu em português – lançado pela editora José Olympio como A Grande Ostra, do jornalista americano Mark Kurlansky.
Kurlansky, um autor que já escreveu sobre bacalhau e sal em livros anteriores, conseguiu compor desta vez com rigor histórico uma parábola exemplar sobre a voracidade humana. Ele conta como Nova York inteira – inteira, no caso, quer dizer a cidade dos ricos e dos pobres, dos pioneiros e dos imigrantes recém-chegados – fartou-se de ostras até praticamente acabar com elas, destruindo seus viveiros imemoriais na foz do Hudson. Quando os europeus chegaram a Manhattan, encontraram ali os lenape, acostumados a catar ostras de até 30 centímetros num litoral onde elas tinham pelo menos 10 mil anos de presença na dieta humana.
Era uma das riquezas de Nova York. E exploradas como tal. Vendidas aos milhões no mercado local e exportadas como produto típico, elas entraram em colapso no começo do século XX. Em outros motivos, por causa da poluição das águas que elas filtram para se alimentar. Hoje, é claro, não falta ostra em Nova York, em restaurantes mais ou menos populares lou de luxo. Um dos mais tradicionais, o da estação Grand Central, anúncia a qualidade de suas ostras na internet com os moluscos batendo palmas diante do prédio histórico, num claque-claque de conchas. Vale a pena clicar aqui para ver a cena. É imperdível.
Proteina pura
A diferença em relação à abundância do passado é que, atualmente, as ostras novaiorquinas são importadas. Por isso o livro de Kurlansky tem um sabor especial para quem ainda está se despedindo de seu patrimônio natural, como os brasileiros. Nossa terra, além de palmeiras, tem sambaquis. E os sambaquis, que coroam boa parte de nosso litoral, nada mais são do que depósitos arqueológicos de ostras.
Elas foram há milhares de anos colhidas como jabuticabas do tronco das árvores de mangue, por uma invejável população précolombiana que, sem fazer força, tirava do mar com as mãos proteína pura e a comia crua, depositando as conchas em pilhas de até 25 metros de altura. Mais ou menos como fazem os grãfinos nas praias exclusivas dos melhores resorts.
Esse povo, que sumiu muito antes que chegassem os europeus aos Brasil, construiu sem querer altares acidentais, verdadeiros monumentos à preguiça benfazeja de um paraíso tropical que de fato andou por aqui, risonho e franco, quando o país ainda não era sequer Pindorama. Os sambaquis precisam com urgência achar o seu Kurlansky. À falta de castores, as ostras são a melhor chance que o Brasil tem de dar a seu passado algum futuro.
Leia também

Brasil registra o maior número de conflitos no campo desde 1985, diz CPT
Segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra, país teve 2.203 conflitos em 2023, batendo recorde de 2020; 950 mil pessoas foram afetadas, com 31 assassinatos →

Acnur anuncia fundo para refugiados climáticos
Agência da ONU destinará recursos do Fundo para proteger grupos de refugiados do clima. Objetivo é arrecadar US$ 100 milhões de dólares até o final de 2025 →

Deputados mineiros voltam atrás e maioria mantém veto de Zema à expansão de Fechos
Por 40 votos a 21, parlamentares mantém veto do governador, que defende interesses da mineração contra expansão da Estação Ecológica de Fechos, na região metropolitana de BH →