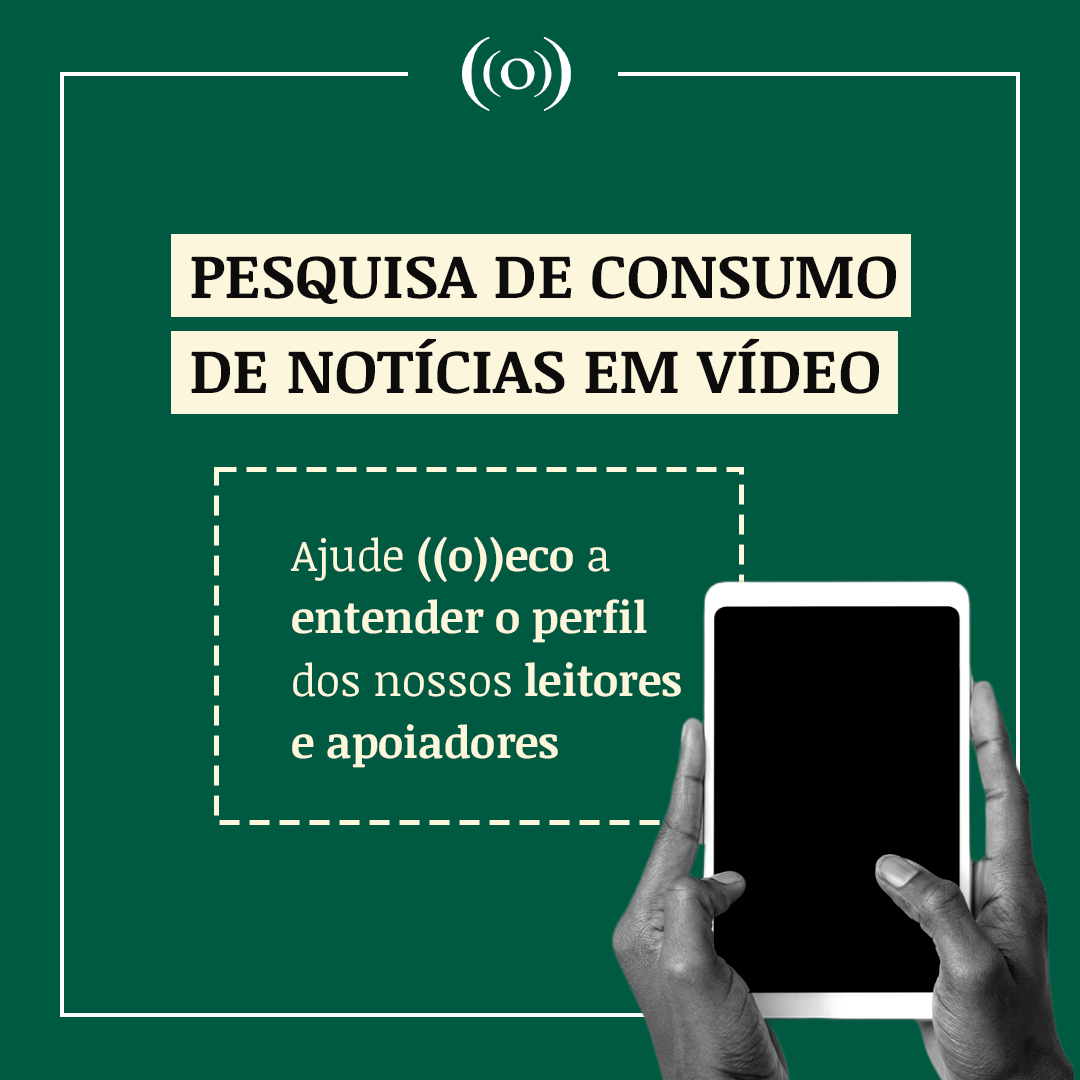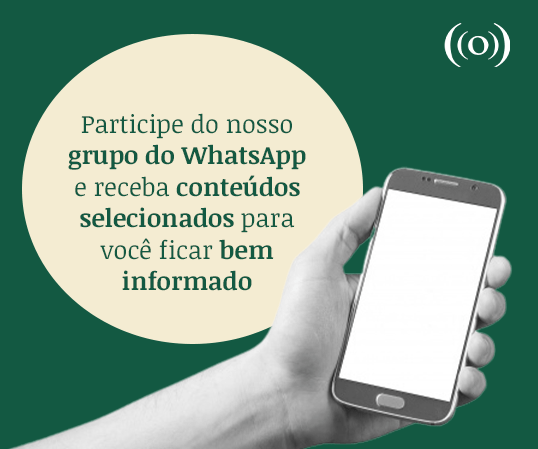O Brasil ainda tem um vasto patrimônio natural. As partes mais conservadas dele estão na Amazônia e no Pantanal. Mas as parcelas remanescentes da Mata Atlântica e do Cerrado, por exemplo, embora mínimas, têm um valor inestimável, sobretudo do ponto de vista das chances de preservação de espécies da fauna e da flora gravemente ameaçadas de extinção.
A velocidade, porém, com que continuamos a degradar e destruir esse patrimônio é assustadora. Nas nossas ainda poucas edições, já conseguimos registrar, aqui em O Eco, alguns exemplos eloqüentes: a fraude de Barra Grande, nas barbas das autoridades ambientais, em boa hora sob constrangimento judicial, denunciada por Marcos Sá Corrêa. Nosso triste recorde de maior índice de desmatamento do planeta. Basta ver o exemplo da floresta com araucária, nesse momento sofrendo agressões de escala criminosa, apesar de, pelo menos, uma década de alerta da comunidade científica e ambientalista de que estava em “estado crítico”.
A maior parte dessa devastação não gera benefício equivalente, nem sob a forma de aumento de produção, nem sob a forma de geração de emprego. Pesquisa feita pelo economista Carlos Young, da UFRJ, apresentada ao IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, mostra que não existe relação entre desmatamento e emprego ou aumento da economia agrícola, na maioria dos municípios dos estados do Sudeste, onde foi avassaladora a devastação da Mata Atlântica. Ao contrário, há casos é de ganhos de emprego e agricultura, com maior cobertura florestal.
“Em grande parte dos municípios onde o processo de desmatamento foi mais acentuado no período 1985-95/96”, diz Young, “percebe-se que ocorreu desemprego acima da média em atividades agropecuárias”. Também para outros indicadores de desempenho econômico, tais como área de lavoura ou pastagens e tamanho do rebanho bovino, ele relata que encontrou relação semelhante, porém menos acentuada. Mesmo nos casos de exceção, onde o desmatamento foi acompanhado pelo aumento em algum dos indicadores de desempenho agrícola, principalmente relacionados à expansão da pecuária, não há um benefício do desmatamento, que não pudesse ser obtido de outra maneira. Raramente o ganho “em um indicador econômico (área de pastagens ou rebanho, por exemplo) foi acompanhado por perda em outro indicador (área de lavouras), sugerindo que o efeito de substituição entre usos da terra já desmatada foi significativamente maior que o ganho de área por desmatamento”, conclui.
Desmatamos, portanto, porque o custo do desmatamento é quase nulo. Não há sanção, as penalidades são ínfimas perto da magnitude do dano patrimonial e onde há penalidades, elas não são aplicadas a tempo e hora. Há uma lacuna institucional que vem se ampliando, no campo do império da lei. A impunidade generalizada, a complacência contumaz, a acomodação sistemática dos interesses dos transgressores, pelas autoridades constituídas, só agravam esse quadro.
A carta das autoridades ambientais a O Eco, reagindo ao que Marcos Sá Corrêa escreveu sobre a fraude de Barra Grande, é eloqüente a respeito dessa lacuna. É um reconhecimento de que a lei foi transgredida, que o relatório de impacto ambiental era mentiroso, como já havia constatado, justiça seja feita, o próprio IBAMA, que a obra é irregular. Mas, fazer o quê, quase pergunta a nota. Diante das pressões externas e internas, cobrar multa, que irá para o caixa único, sem beneficiar a área ambiental e mandar arrumar uma área equivalente para preservar. Só não consegue dizer aonde há fragmentos equivalentes de mata de araucária para preservar.
Unidades essenciais
Certamente, há um momento no processo de desenvolvimento nacional, e ele deve estar pra lá das brumas do tempo, em que a relação custo/benefício da ocupação das terras de cobertura florestal se inverteu. De lá para cá, ela tem seguido, crescentemente, a trajetória que se depreende do trabalho de Carlos Young: muita perda, para pouco benefício coletivo, em muitos casos, prejuízo coletivo.
É a partir desse ponto, em que já atingimos um grau de desmatamento social e economicamente injustificável, que aceleramos o desmatamento vertiginosamente e já não tiramos benefício relevante de cada hectare de mata que perdemos, que as unidades de conservação passam a ter um papel crucial. Elas são a última fronteira, a cidadela derradeira da proteção de nossa flora e fauna. Marc Dourojeanni já fez a demonstração suficiente dessa importância das áreas de proteção e conservação.
E, no entanto, elas cobrem, ainda, uma fração pequena de nosso território. As de uso indireto, por exemplo, parques e reservas, cobrem 3% da área do país, muito menos do que o que se vê em vários países com muito menos megadiversidade que o Brasil, argumenta Cláudio Carvalho, da Universidade Federal do Paraná. Fora a Amazônia e o Pantanal, os outros biomas brasileiros estão fortemente fragmentados, principalmente a Mata Atlântica e o Cerrado. Neles ainda se concentra a maior parte da fauna e da flora nativas ameaçadas de extinção.
Adriano Paglia e um grupo de pesquisadores da Conservação Internacional dizem, em trabalho apresentado ao Congresso sobre Unidades de Conservação, que “aproximadamente 60% (179 táxons) das 305 espécies da lista vermelha da IUCN para o Brasil estão hoje restritas aos cerca de 7% de florestas remanescentes do bioma Mata Atlântica”. Lembram que o sistema de áreas protegidas da Mata Atlântica tem aproximadamente 700 unidades de conservação públicas e privadas, totalizando 13 milhões de hectares, dos quais apenas 2,6 milhões estão sob categorias de proteção integral. Estas cobrem menos de 2% da vegetação remanescente e a grande maioria tem área inferior a 10.000 ha.
Gustavo da Fonseca, do Departamento de Zoologia da UFMG e da Conservação Internacional, chama em seu socorro, nosso Dourojeanni, para ressaltar que as áreas protegidas fazem toda a diferença, mesmo com níveis relativamente baixos de investimento. E vai adiante, para argumentar que mesmo parques muito degradados ainda resistem como o último refúgio das espécies remanescentes em ecossistemas devastados. Na América Latina, muitos parques se destacam como as últimas manchas de habitat natural, numa paisagem totalmente desmatada.
Para Fonseca, já há evidência técnico-cientítica suficiente da importância extrema das unidades de conservação. Estudos estatísticos recentes revelaram fortes efeitos de proteção dos parques em Belize e no México. Um outro, baseado em imagens de satélite, em Costa Rica, evidenciou perda de 10% da cobertura florestal remanescente do país, no período 1987-1997, enquanto os parques perderam apenas 0,4%. Conta, ainda, que pesquisa recente em 22 países tropicais, usando uma amostra de 93 parques submetidos a alto grau de stress, mostrou que não houve desmatamento relevante desde a fundação, em 83% deles, com uma vida mediana de 21 anos. Houve regeneração da vegetação nativa, nas áreas desmatadas antes da criação de 40% desses parques. Somente 17% mostraram perda significativa de cobertura.
Comparando os parques com seu entorno, essa pesquisa concluiu que embora tivessem encontrado sinais inequívocos de séria degradação, principalmente, pela caça, eles estavam em muito melhores condições que as áreas circundantes. Para Gustavo da Fonseca, essas evidências mostram que os parques resistem a altos graus de pressão e, com relativo pouco esforço, podem ser muito eficazes.
Parques estressados
Pressão adversa sobre nossos parques é o que não falta. Primeiro, porque eles estão submetidos à mesma lógica que o setor público, que vive uma crise estrutural profunda e de longa duração. Pelo menos duas expressões dessa crise estão evidentes no sistema de unidades de conservação brasileiro: a falência fiscal e o colapso gerencial. Este último é, em parte, decorrência da primeira, mas tem componentes que independem da falta de recursos e estão associados a uma cultura degradada, uma visão burocrática, centralizadora e autoritária, que permeia o aparelho de estado brasileiro, em todos os seus níveis.
Há um tríplice sistema de forças atuando negativamente sobre nossas áreas de proteção. O primeiro vetor é genético: a maioria dos parques foi constituída sem critérios técnicos que garantisse a plena representatividade e significância da área a ser protegida. Numerosas delas não tiveram, na origem, situação fundiária e legal regular, nem foram isoladas do entorno por zonas de transição, capazes de amortecer o impacto do ambiente externo.
Mesmo onde havia estudos técnicos demarcando a área necessária ao parque, muitas vezes não puderam ser seguidos, como explicou, em carta a O Eco, Maria Tereza Pádua, sobre o parque do Pantanal. Este, mesmo com a adição das RPPN`s adquiridas pela Ecotrópica, ainda tem uma lacuna importante, que merece e deve ser preenchida, com ou sem a participação do setor público.
O segundo vetor do sistema de pressão sobre os parques é político-territorial. Os parques em áreas urbanas são pressionados pela expansão das periferias das cidades que, não raro vão tentando se apropriar de pedaços de seu território. Mesmo não logrando êxito nessa tentativa de ocupação, terminam por gerar o que se poderia chamar, por analogia, de efeitos de borda da interação entre o sistema urbano e o ecossistema do parque, via invasões, caça, lixo e detritos. Vi esse tipo de pressão, no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais e pude constatar o esforço hercúleo de seu gerente, para conter e educar essa população fronteiriça, no município de Timóteo, por exemplo.
Os parques em áreas não-urbanas são pressionados pela expansão das atividades agro-pecuárias, como acontece, hoje, no Pantanal, em várias outras áreas de proteção do Centro-Oeste e na Amazônia.
O terceiro vetor desse sistema de ataque às unidades de conservação é endógeno. Decorre da ação de agentes invasores no interior dos parques. Esses agentes podem ser naturais, espécies exóticas disputando território com as espécies nativas, por causa da contaminação biológica; ou humanos, caçadores, madeireiros, pescadores, que devastam os parques por dentro, sobre-ameaçando de extinção local espécies já marcadas como em perigo de extinção global.
O primeiro caso, explica a matança de mico-leão dourados por predadores, em Poço das Antas; a desaparição do lobo-guará e do tamanduá-bandeira, do Parque Nacional de Brasília, atribuído à ação de cachorros domésticos, no seu interior; o tucunaré devorando os peixes nativos nas lagoas do parque do Rio Doce.
Retrato sem retoque
Todos esses processos estão amplamente mapeados pela comunidade científica brasileira, como demonstram mais de uma quinzena de trabalhos apresentados ao IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Há estudos que avaliam a situação do conjunto de sistemas estaduais de parques, por exemplo, em Minas Gerais, no Ceará, no Paraná e no Espírito Santo. Outros, examinam, em detalhe, as condições de parques em particular, como os de Iguaçu, do Itatiaia e do Pico da Neblina. Outros, ainda, pesquisam a situação da fauna em áreas de conservação, como a Ilha do Cardoso, a Serra dos Órgãos, ou o parque de Iguaçu.
O retrato que sai desses estudos é inquietante, mas não chega, ainda, a ser desesperador. As áreas de proteção estão em situação desigual de precariedade, todas sofrem as pressões que mencionei acima, em maior ou menor grau, todas vivem a crise fiscal e gerencial. Mas resistem e continuam a ser uma rede essencial de proteção de nossa biodiversidade.
A maioria das unidades não tem situação fundiária regularizada, geralmente por falta de recursos para pagar as desapropriações. No Mato Grosso, por exemplo, relata a gerente executiva da Fundação Ecotrópica, Fátima Sonoda, somente 14 dos 35 parques têm situação fundiária regular. Em Minas Gerais, como informa Ronaldo César Vieira de Almeida, do Instituto Estadual de Florestas, o órgão gestor dos parques, mais de metade deles não tem situação fundiária regular. No Paraná, Wilson Loureiro, diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do IAP, órgão responsável pelos parques do estado, reconhece que “a regularização fundiária tem sido relegada a plano secundário ao longo do tempo, em especial pela não definição de dotação orçamentária visando ao pagamento dos proprietários desapropriados”. Em virtude dessa atitude, apenas 54% dos parques estaduais e 60% das estações ecológicas e florestas estaduais têm situação regularizada.
A situação gerencial também é muito ruim. Em Minas Gerais, só o Parque Estadual do Rio Doce tem alguma capacidade gerencial, ainda assim, muito longe do mínimo requerido, conforme atestam Vieira de Almeida e os professores da UFMG, Marcos Antônio Reis Araújo e Ricardo Motta Pinto-Coelho, que fizeram uma abrangente avaliação da qualidade gerencial dos parques mineiros. Vieira de Almeida diz que só o Parque do Rio Doce, até hoje, tem plano de manejo aprovado. No estudo de qualidade de gestão dos dois professores, ele foi o melhor avaliado de todos, com 28,25 pontos… de um total de 500 pontos possíveis.
Fátima Sonoda diz que 86% dos parques do Mato Grosso não têm plano de manejo. Maria da Penha Padovan, bióloga do INCAPER-ES, e Márcia Regina Lederman, especialista em manejo de áreas protegidas, chegam a conclusão semelhante para os parques capixabas. Eles obtiveram menores pontuações, em suas avaliações, nos quesitos, econômico-financeiro e institucional, que cobrem o aspecto gerencial. Saíram-se muito melhor, nos quesitos ambientais. No Ceará, Francisca Helena Aguiar da Silva, Oriel Herrera Bonilla e Claudia Ferro de Oliveira, afirmam que são todos parques de papel: 63% não seguiram critérios técnicos para sua constituição, 91% não possuem planos de manejo e 82% não desenvolvem trabalho de monitoramento ambiental.
Os estudos sobre a situação de parques em particular ou da fauna, mostram sinais semelhantes de alerta. A começar pelo levantamento geral realizado por seis pesquisadores da Conservação Internacional, no sistema da Mata Atlântica. Eles detectaram um total de “57 espécies-lacuna (54,8% das espécies analisadas), ou seja, que não estariam efetivamente protegidas pelo atual sistema de Unidades de Conservação na Mata Atlântica”. Analisando cada grupo separadamente, informam que “37,5% dos anfíbios, 60% dos répteis, 70% dos mamíferos e 30% das aves consideradas não atingiram a meta de conservação pré-definida. Apenas 13 das 104 espécies analisadas foram consideradas protegidas. As demais 34 foram consideradas parcialmente protegidas”. Segundo os pesquisadores, as áreas onde se concentram os sítios de elevada importância coincidem, em larga medida, com as apontadas em levantamentos anteriores, como prioritárias para a conservação, em escala regional.
Christine Steiner São Bernardo e Mauro Galetti atestam a extinção local de várias espécies, por causa da caça por comunidades tradicionais que vivem no interior da área de proteção da Ilha do Cardoso. Algumas delas, espécies listadas como ameaçadas de extinção total no Brasil. Em Jurupará, dizem, já praticamente não se avistam aves e mamíferos.
André de Almeida Cunha, do Departamento de Ecologia da UFRJ, conclui seu estudo sobre a Serra dos Órgãos, dizendo que, como “na Mata Atlântica parece haver um intervalo de tempo entre a degradação e fragmentação florestal e a extinção das espécies”, a “comunidade de mamíferos da Serra dos Órgãos agoniza, mas ainda resiste”, criadas condições mais favoráveis, acredita que ela possa ainda ser “preservada, restaurada e até recuperada.” Mas três espécies-chave de grande porte – a anta, a onça e o cateto – já se encontram localmente extintas.
Um grupo de pesquisadores do Paraná, identificou no parque do Iguaçu, “29 espécies de mamíferos, divididas em 16 famílias, e oito ordens”, 41% listadas no livro vermelho da fauna ameaçada no estado. Encontraram, também, evidentes sinais de pressão endógena sobre essas espécies. Em outro estudo, três desses pesquisadores, Ana Flávia D’Amico, Marcelo Oliveira da Costa e José Flávio Cardoso Jr, detectaram evidência concreta de atividades clandestinas permanentes no interior do parque, que tem sido considerado uma unidade exemplar. A extração ilegal de palmito está deixando clareiras significativas na área protegida, com alterações ambientais já perceptíveis e ameaçando as espécies animais que se alimentam dele. A caça sistemática, comercial e sofisticada é outra gravíssima pressão interna sobre a integridade das espécies do parque. Os pesquisadores encontraram 4 acampamentos de porte de caçadores; saleiros com tocaia e pesqueiros, estes bastante afastados dos pontos dos caçadores, indicando que é extensa a área de invasão permanente do parque.
“O Parque Nacional do Pico da Neblina completou 25 anos de idade no dia das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano de 2004. Porém, não houve muito para se festejar”, é como encerra seu trabalho o analista ambiental do IBAMA, Rodrigo de Loyola Dias. Ele informa que o parque ainda não possui um Plano de Manejo, para regularizar a visitação pública e fazer o seu zoneamento. Também não há postos de fiscalização, diz, nem recursos financeiros para a contratação de vigilantes e guarda-parques e mal consegue financiar as atividades de fiscalização com três funcionários. O parque tem problemas de vigilância em suas fronteiras, que são muitas e vulneráveis, com vários pontos de acesso. Essas fragilidades estimulam o comércio da carne de caça pela população do entorno. A caça ilegal é conduzida por moradores da cidade de São Gabriel. Caçar é permitido nas terras indígenas, Yanomami, que não vivem, porém, em estado de natureza. Ao contrário, é uma formação quase-urbana, com elevado potencial de agressão ambiental, dotada de “postos de saúde, pelotões militares com pistas de pouso, escolas, missões religiosas, telefones públicos, geradores e antenas parabólicas”. Essas forças, hoje, com apoio da Funai, querem reduzir a área do parque. Claro.
Monika Richter, Carla Cruz e Leonardo Valentim terminam em um tom mais otimista o seu estudo do uso do solo no Parque Nacional do Itatiaia, com ajuda de sensoriamento remoto, dizendo que ele se encontra em bom estado geral de conservação, com cerca de 92% de sua cobertura vegetal preservada. Na opinião deles, isso confirma “os resultados obtidos em pesquisas desenvolvidas em UCs de diversos países, demonstrando que apesar das dificuldades e ameaças, essas áreas protegidas minimizam significativamente o desflorestamento, e conseqüentemente a perda de habitat, considerado atualmente o fator principal de perda de biodiversidade”. Essa conclusão favorável, não apaga a constatação de que a situação fundiária do parque é “complexa”, 30% de sua área ainda não foram desapropriados. Há áreas significativas de contato com pastagens, que constituem “grande ameaça” a uma das partes mais sensíveis desse ecossistema.
Caso de política
Muitos acham que esta situação de quase abandono da maioria das áreas de proteção se deve à falta de vontade política. Não é. É ocioso imaginar que, algum dia, algum governante vá engordar o orçamento da área ambiental e, num ato de vontade, inverter a balança a favor da preservação. Isto provavelmente nunca acontecerá. A crise fiscal do estado brasileiro é profunda e de muito longa duração. O suficiente para frustrar quaisquer boas intenções. A crise gerencial do setor público produz generalizada falta de iniciativa. A cultura burocrática e formalista retira toda a flexibilidade institucional, que permitiria soluções diferenciadas e criativas. A falta de qualidade de gestão e de controle de custos piora um quadro já deteriorado.
Não é caso de vontade política. É caso de política, pura e simples. Frequentemente, de polícia. Mas ela também é parte da crise geral do estado. A política é um jogo bruto de interesses e pressões. As coalizões de interesses que promovem a agressão ao meio-ambiente têm mais força e recursos que as coalizões pela preservação. Os orçamentos são decididos politicamente e os programas ambientais perdem. A opinião pública, principalmente no Brasil, ainda não se tornou majoritariamente favorável à causa ecológica. Tem que ser conquistada. O combate é desigual e requer uma estratégia mais eficaz do que a simples pressão ambientalista sobre os governos ou a busca infrutífera de seres dotados de vontade política. Não há vontade que rompa o cerco dos interesses, alavancados por recursos de poder e pressão e os constrangimentos institucionais embutidos no sistema político.
A melhor luta que se pode fazer é pela criação de possibilidades legais e institucionais de resolver os problemas mais agudos das UC’s sem contar com o orçamento público e, mesmo, com a administração pública. É preciso criar meios institucionais e legais para que se possa captar no setor privado os recursos necessários – e não só financeiros, mas também humanos, técnicos e científicos – para mudar radicalmente a situação de nossas principais áreas de proteção. Este talvez seja o campo mais crucial para parcerias público-privadas. E a contrapartida desse aporte de recursos novos de origem privada deveria ser a gestão compartilhada e a criação de mecanismos de controle de custos e de qualidade de gestão, daí por diante.
É uma dura batalha legislativa, também, para criar o enquadramento que propicie não a privatização dos parques, mas sua gestão pública e não estatal, por meio de parcerias entre o estado e organizações de fins sociais (ONG’s verdadeiras). Desta forma, seria possível gerar massa crítica suficiente, no mínimo, para elevar radicalmente os padrões gerenciais e ecológicos dos nossos parques mais importantes e preencher as lacunas, nos hot spots que já fomos capazes de identificar. Estou convencido de que só a criação de um espaço de gestão ambiental pública e não estatal, pode manter as principais áreas de proteção brasileiras íntegras.
Esse retrato nítido e sem retoques que os estudos aqui comentados e muitos outros fazem de nosso sistema de proteção ambiental mostra que é urgente criarmos mecanismos para proteger a proteção.
Leia também

A nova distribuição da vida marinha no Atlântico ocidental
Estudo de porte inédito pode melhorar políticas e ações para conservar a biodiversidade, inclusive na foz do Rio Amazonas →

Uma COP 30 mais indígena para adiarmos o fim do mundo
Sediada pela primeira vez na Amazônia, a conferência traz a chance de darmos uma guinada positiva no esforço para frear a crise climática que ameaça nossa espécie →

PSOL pede inconstitucionalidade de lei que fragiliza o licenciamento ambiental no ES
Para o partido, as mudanças no licenciamento estadual não estão previstas na legislação federal e prejudicam o meio ambiente; lei tirou espaço da sociedade civil nos processos →