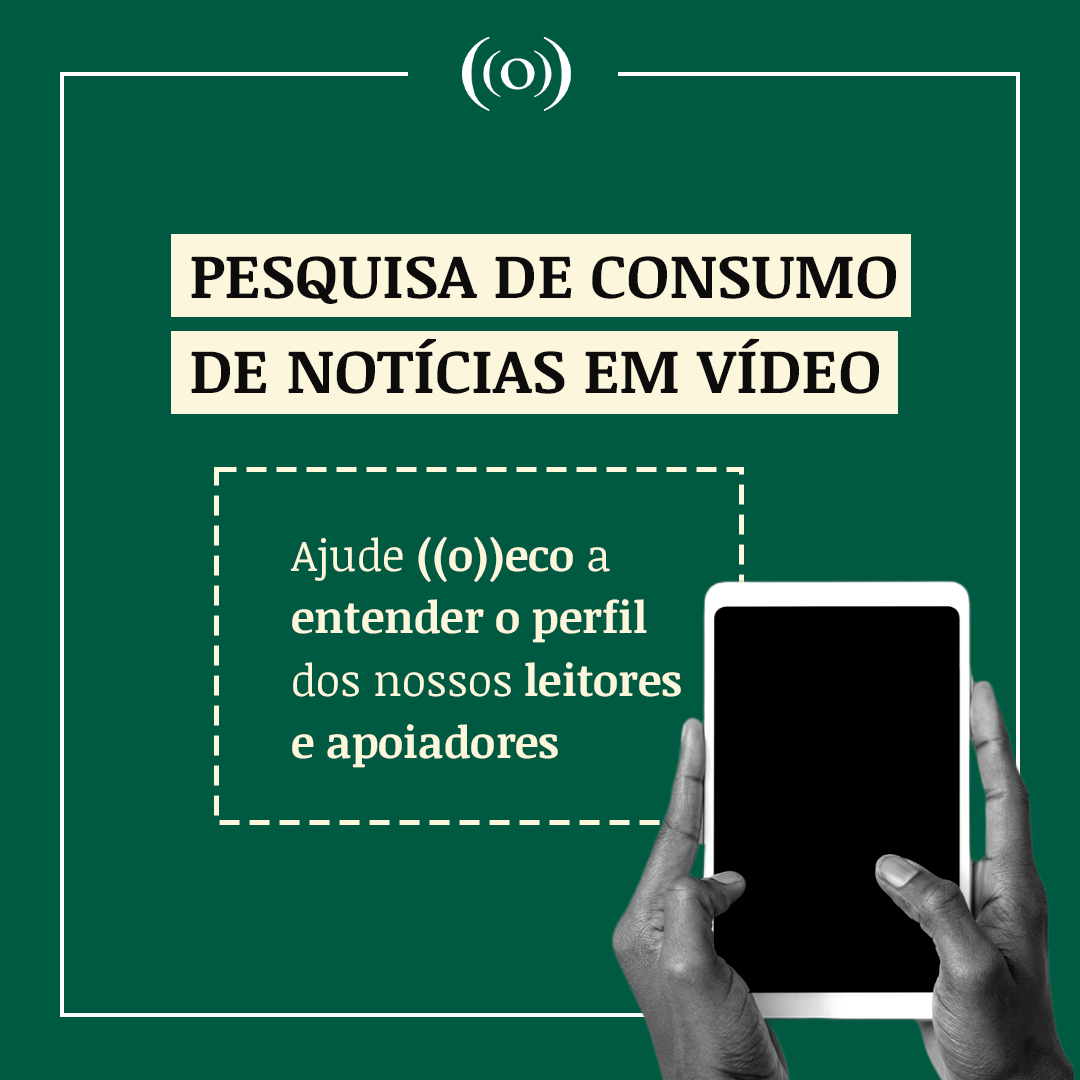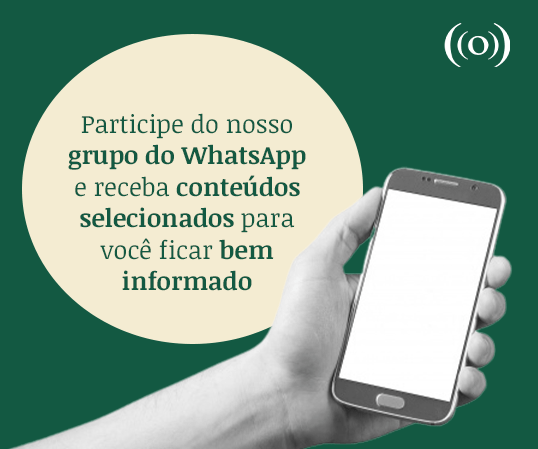O sol começa a se recolher no horizonte, colorindo a abóbada de laranja. A temperatura tórrida dos trópicos baixa, tornando o ar um pouco mais respirável. Aos poucos, diversos animais — antílopes, zebras, elefantes, hipopótamos e alguns grandes carnívoros — principiam a surgir por entre a rala vegetação da savana africana. Estão iniciando suas atividades vespertinas. Aglomeram-se em torno de um pequeno açude natural onde vão buscar água.
De repente, a cena idílica é interrompida por um ensurdecedor estrondo que espalha imensa nuvem de poeira pelo ar. Explodiu uma mina terrestre anti-tanque. Não resistiu ao peso de um rinoceronte que pisou sobre ela. O alvo não era a couraça do animal em extinção, mas a blindagem dos carros de combate do exército inimigo. Hoje foi um rinoceronte, amanhã poderá ser um elefante, um antílope, um hipopótamo.
Nas décadas de 1970 a 1990, sucessivas conflagrações militares e guerras civis dizimaram a fauna de unidades de conservação de Angola, Ruanda, Congo e Uganda, para citar somente alguns países. Em Moçambique, décadas de lutas entre o Governo e a Renamo vitimaram toda a grande fauna do norte do país, abatida por balas perdidas (e minas terrestres), mas também caçada a tiros de metralhadora para alimentar as tropas dos dois lados.
O problema não é novo. Ao longo de toda a década de 1960, vôos rasantes de aviões norte-americanos despejaram milhões de litros do agente laranja sobre as matas tropicais do Vietnã. Sabe-se que os soldados dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e que militares e civis vietnamitas ainda hoje estão pagando com a própria saúde as conseqüências desastrosas dessa arma de guerra química.
Note-se, contudo, que o agente laranja não era armamento anti-tropas, mas desfolhante destinado a desbastar a cobertura vegetal da floresta indochinesa. Até hoje, pouco se inventariou o desastroso passivo ambiental decorrente do seu borrifamento indiscriminado.
Sabe-se que outra arma de guerra, a American Vine — trepadeira nativa da América do Norte, introduzida em Vanuatu pelo exército estadunidense durante a Segunda Guerra Mundial para camuflar as fortificações terrestres contra ataques aéreos japoneses — passado meio século está se reproduzindo a taxas alarmantes e ameaça destruir por completo a diversificada e altamente endêmica floresta da Ilha de Efate.
Do topo da montanha, sentados em silêncio, quinze homens observam a beleza da paisagem lá embaixo. À medida que o sol vai se esvaindo, as luzes da cidade tomam o lugar dos bairros, que paulatinamente perdem seu contorno. O crepúsculo é fascinante, mas não encanta o pelotão. O tenente da Polícia Militar faz um sinal; a tropa esfrega um creme preto na face. A seguir, o oficial sussurra instruções. Todos pegam seus fuzis e embrenham-se na mata. Descem cuidadosos a trilha escorregadia. Em 40 minutos, chegarão ao acesso superior da favela. Estão preparados para o pior. O tiroteio é inevitável.
Em outra encosta do Rio de Janeiro, Zé da Silva comemora a permissão do tráfico para erguer seu barraco. Vai morar na parte alta da comunidade. Em dois dias prepara o terreno; derruba vinte árvores, aplaina a encosta, ergue uma tapera de tijolos crus e soalho de chão batido. A seu redor, os vizinhos também são recém-chegados do último mês. Para dar lugar à expansão da favela, desmatou-se 1 hectare.
A permissão para Zé tem contrapartida. É sua obrigação manter aberta e limpa a trilha que liga a comunidade à outra favelinha na fralda oposta da serra. Trata-se de rota de fuga estratégica para o soldados da facção criminosa da hora..
Zé chegou do interior do Nordeste, onde caçava com o pai desde menino. A Floresta, ou Parque Nacional — como a burocracia e o Plano de Manejo teimam em chamar o quintal de Zé —, provê fonte de alimentação e lazer. Nos fins de semana, Zé e mais meia dúzia de amigos internam-se hora e meia mata adentro, constróem um acampamento tosco, espalham giraus e armadilhas, caçam a valer. Não é difícil achar a bicharada. Represas ilegais captam as águas cristalinas dos córregos do Parque Nacional bem alto, junto às nascentes. Vão abastecer as residências de milhões de favelados. Substituem gratuitamente a água da Cedae que não chega pelos carcomidos canos do estado. Por conseguinte, a parte inferior dos leitos dos rios fica seca. A fauna concentra-se nos poucos lugares em que a água ainda corre. Em seu couto de caça, Zé tem falsa impressão de fartura. Em poucos anos a fauna, já oficialmente classificada como ameaçada e extinção, há de desaparecer por completo.
Tudo isso acontece em uma área da natureza oficialmente protegida pelo Governo, dentro de uma grande metrópole brasileira. Mas quem se atreve a fiscalizar? O clima é de guerra e a fiscalização é pensada para tempos de paz. A conclusão é que os jornais reportam, as ONGs reclamam, os órgãos ambientais planejam, mas nada é feito. Ninguém está aparelhado para enfrentar essa guerra.
Não se trata, porém, de caso perdido. A mesma África, cujas unidades de conservação enfrentaram guerras civis e o caos advindo de anos de conflagração, desenvolveu diversos métodos para minimizar os efeitos dos conflitos militares sobre áreas ambientalmente sensíveis. Este conhecimento está sendo catalogado e sistematizado em uma Comissão Técnica da União Mundial para a Conservação da Natureza, a UICN. No último Congresso Mundial de Unidades de Conservação, realizado em Durban, na África do Sul, em meados de 2003, houve um seminário exclusivo sobre o tema. Reuniu especialistas do mundo inteiro durante três dias. Infelizmente, parece que o assunto não diz respeito aos brasileiros. Havia no Congresso quase uma centena de compatriotas. Nenhum deu as caras naquele seminário.
Se tivessem ido, aprenderiam que temos uma longa jornada a percorrer para melhor gerir nossos Parques submetidos à guerra urbana. Solução que pode passar pelo diálogo com as facções rivais, mas que também tem muitos outros caminhos a serem percorridos.
O objetivo de uma guerra, seja ela entre dois países, civil, rural ou urbana em torno do controle da venda de drogas em uma metrópole como o Rio de Janeiro, não é o meio ambiente. Muito pelo contrário, a fauna e a flora são vítimas colaterais desses conflitos. Como a UICN já demonstrou, se não é possível às administrações de parques eliminar as guerras, há fórmulas para resolver ou mitigar esses danosos efeitos colaterais. Como bem ensinam muitas experiências mundo afora, o diálogo, quando somado à fiscalização séria e atuante, traz os melhores resultados.
É aí que o Brasil, país dos planos de manejo que raramente geram manejo efetivo, peca. Falta-nos o diálogo e falta-nos o manejo. Para encurtar a história, cito apenas um exemplo comparativo. Enquanto o Quênia e a Tanzânia têm seus guarda-parques organizados em estrutura e hierarquia militar e estão no campo, nós sequer temos uma carreira de guarda-parque em nível federal. Por outro lado, temos batalhões florestais no âmbito de quase todas as Polícias Militares do Brasil. No Rio de Janeiro, são quase 400 soldados e oficiais. Nenhum deles está lotado em uma unidade de conservação. Seu Quartel fica em Columbandê, São Gonçalo, uma das regiões mais densamente urbanizadas do Brasil.
As áreas de conservação ambiental só viram campo de manobras militares ou paramilitares, como no caso dos traficantes cariocas, se forem terra de ninguém. Assim como não cabe a Floresta da Tijuca ser utilizada pelo Batalhão de Operações Especiais como plataforma de invasão de favelas, tampouco faz sentido o Batalhão Florestal precisar de um guia cada vez que faz uma patrulha no mais importante Parque Nacional urbano do Brasil.
Como ensinou o professor Marc Dourojeanni em palestra feita em Campo Grande, em 2000, “o profissional ligado a Parques tem que gostar de mato, de andar no mato, de dormir no mato, de passar dias no mato. Administração de Parques tem que ser feita dentro do mato”.
A violência das guerras do Rio está entrando no mato por uma única e exclusiva razão: quem deveria conhecer a Floresta como a palma de sua mão precisa de guia para transitar em suas trilhas. Quem deveria estar no mato está sentado em uma cadeira, atrás de uma mesa.
Temos muito o que aprender com a África. Mas para isso não é preciso ir até lá. Basta fazer o óbvio: “parar de produzir papel e começar a manejar”.
Leia também

A nova distribuição da vida marinha no Atlântico ocidental
Estudo de porte inédito pode melhorar políticas e ações para conservar a biodiversidade, inclusive na foz do Rio Amazonas →

Uma COP 30 mais indígena para adiarmos o fim do mundo
Sediada pela primeira vez na Amazônia, a conferência traz a chance de darmos uma guinada positiva no esforço para frear a crise climática que ameaça nossa espécie →

PSOL pede inconstitucionalidade de lei que fragiliza o licenciamento ambiental no ES
Para o partido, as mudanças no licenciamento estadual não estão previstas na legislação federal e prejudicam o meio ambiente; lei tirou espaço da sociedade civil nos processos →