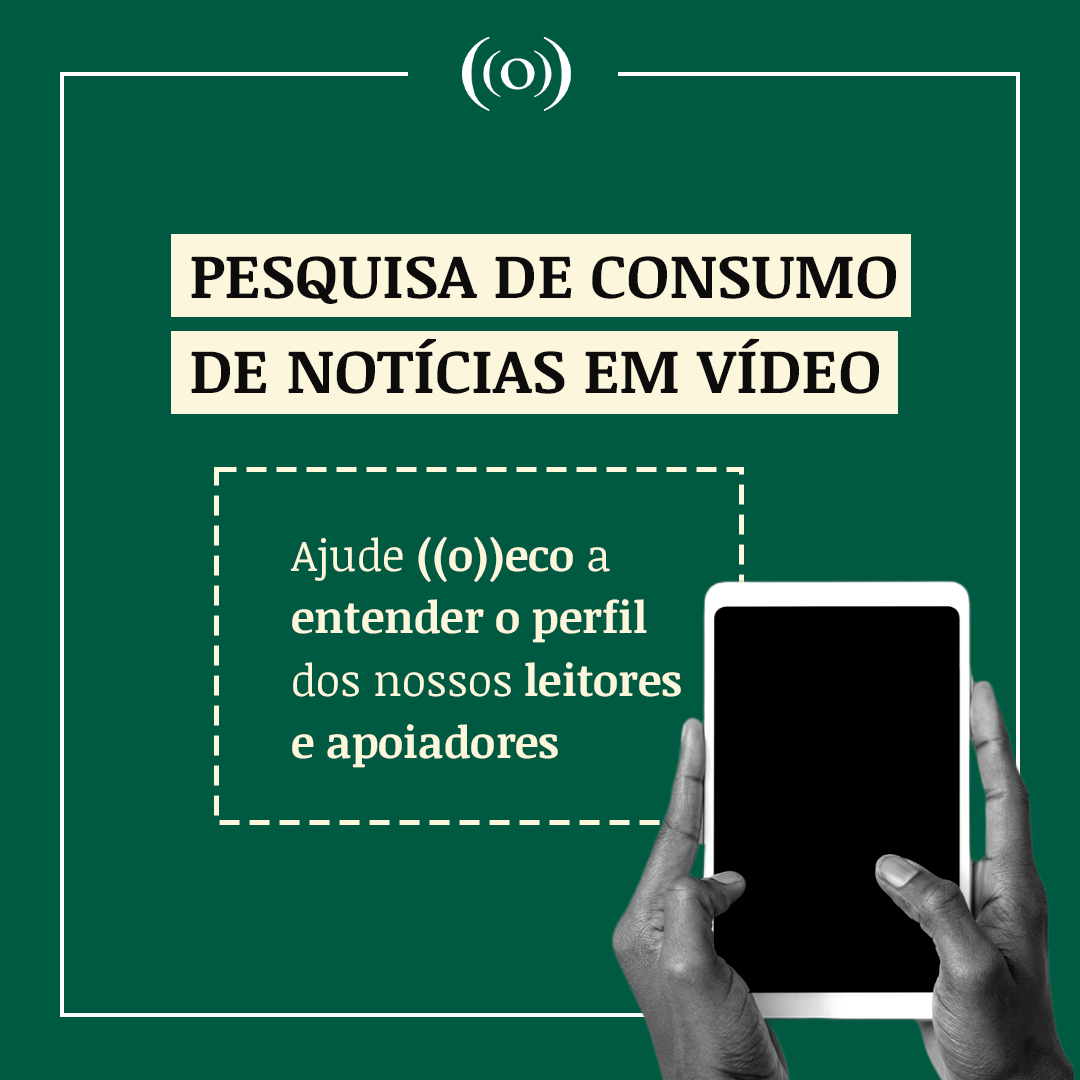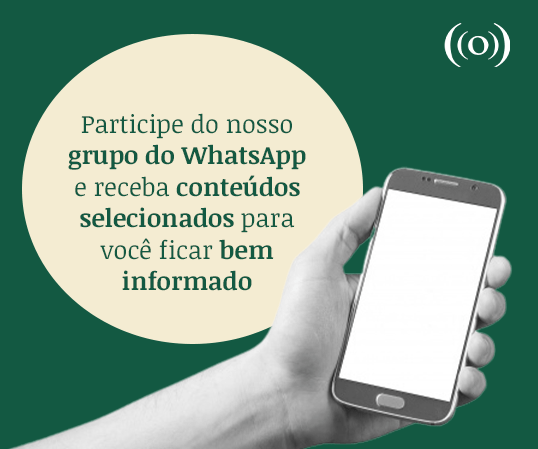O segmento dos chamados “esportes radicais” ou “esportes de aventura” tem crescido sensivelmente em todo o mundo. Em especial no Brasil. Isso não quer dizer que estejamos à frente, na vanguarda da exploração desse tipo de atividade. Muito pelo contrário, estamos anos-luz atrás da maior parte da Europa e de boa parte do resto do mundo. Inclusive dos nossos vizinhos Argentina, Chile, Peru e Bolívia. Esses países possuem uma tradição de décadas, quando não de séculos, nesses esportes. Uma vasta experiência.
Em dois aspectos, no entanto, o Brasil tem inovado bastante nesse departamento. O primeiro deles é que, pela primeira vez em algum lugar do mundo, o rapel, puro e simples, se popularizou como esporte. Inicialmente criado como uma técnica de descida para escaladores, e depois usado como forma de resgate ou de atingir grutas profundas, hoje ele virou uma atividade em si. Deixou de ser meio para se tornar fim. E o fim normalmente é uma longa fila de pessoas esperando para descer, aos berros, uma corda que, para elas, liga o nada a lugar nenhum (salvo raras exceções, poucas coisas são mais incômodas para quem caminha em trilhas ou escala montanhas do que um grupo de “rapeleiros” por perto; é preferível pegar chuva).
O outro aspecto em que o Brasil tem inovado, esse sim mais sério em suas potenciais conseqüências, é a mania de tentar regulamentar tais atividades. Há um sem número de leis e projetos de lei que pretendem regularizar o que chamam simples e genericamente, sem qualquer critério compreensível aparente, de “esportes radicais”.
Complicando o simples
A primeira coisa que chama a atenção quando se olham tais projetos e leis é a sua quase absoluta ininteligibilidade. Na maioria dos casos não se consegue entender, sequer, o que está sendo regulamentado. Veja-se, por exemplo, o Projeto de Lei nº 403/2005, de autoria do senador Efraim Moraes, que hoje tramita no Senado Federal. Seu art. 1º diz: “Esta lei estabelece normas para a prática de esportes radicais ou de aventura no País”.
Muito bem, mas quais seriam, afinal, esses esportes? O parágrafo único do artigo prontamente esclarece: “Para efeito desta lei, classificam-se como esportes radicais ou de aventura as atividades esportivas de caráter recreativo, oferecidas comercialmente, com riscos avaliados, controlados e assumidos”. Alguém entendeu? Futebol é esporte radical? Vôlei? Automobilismo? Surfe? Judô? Dardos?
Parece que sim. Afinal, todos eles podem ser praticados recreativamente e explorados comercialmente.
Aqui cabe uma história exemplificativa: há cerca de três anos, eu quebrei o pé numa queda, durante uma escalada. Ao chegar ao hospital, havia um sujeito que, jogando futebol, rompera todos os ligamentos do joelho. Eu mancava, ele urrava. Eu não precisei de cirurgia, ele provavelmente sim. É um típico caso de risco avaliado, calculado e assumido. Sob essa ótica, futebol é, sem dúvida, esporte radical.
O art. 2º do PL 403 mantém a mesma precisão. Segundo ele, “a prestação de serviços consistente na prática de esportes radicais fica condicionada à comprovação, nos competentes órgãos ou entidades do Poder Público, de qualificação específica de instrutores e profissionais responsáveis pela preparação de locais e operação de equipamentos”. Essa qualificação, estipula o parágrafo 1º desse mesmo artigo, “será comprovada por meio de certidão obtida em curso aprovado pelos competentes órgãos do Poder Público”. Pergunta número 1: quem são os competentes órgãos do Poder Público e quem lhes confere essa competência? Pergunta número dois: quem fiscalizará isso, e como?
Um amigo meu comentava outro dia que, assim que essa lei for aprovada, aparecerão fiscais nas trilhas cobrando certificados de quem quer que achem que tem cara de “esportista radical”. Evidentemente, diz ele, quem não quiser pagar a propina do fiscal, poderá adquirir seu certificado de um sujeito, “devidamente qualificado pelos órgãos competentes”, que estará em uma banquinha ao lado do fiscal. Em se tratando de Brasil, é a mais pura verdade.
Recentemente promulgada em São Paulo, a Lei 14.139/2006 dispõe sobre a prática de esportes e atividades radicais ou de aventura no Município de São Paulo. Ainda mais lacônica do que o PL anterior, ela sequer especifica o que seriam as atividades que pretende regulamentar. Seu art. 1º limita-se a dizer que “as empresas e entidades que desenvolvam atividades relacionadas à prática dos denominados esportes e atividades radicais ou de aventura deverão observar as normas e diretrizes estabelecidas nesta Lei”.
O seu parágrafo único, por sua vez, também não ajuda: “as atividades mencionadas neste artigo deverão ser realizadas em locais apropriados ou autorizados mediante utilização de equipamentos adequados, preservando-se os espaços públicos e naturais e garantindo-se a segurança individual e coletiva”. Mais uma vez, as perguntas superam as respostas. Locais apropriados? Equipamentos adequados?
Para piorar o quadro, ainda há boatos no meio dos montanhistas de que se estaria preparando uma lei semelhante para o Rio de Janeiro que, entre outras pérolas, obriga o uso de luvas em escaladas (só a título de informação, para quem não sabe: ninguém, em nenhum lugar no mundo, escala rochas usando luvas, pelo simples fato de que se perdem o tato e a aderência necessários).
Ou seja, está óbvio que quem anda editando essas leis não entende absolutamente nada da matéria. E, ao que tudo indica, nem mesmo se esforça para isso. O que esse tipo de lei vai conseguir é criar confusão onde até hoje não há.
Esperteza ou falta de educação
O outro ponto curioso dessa febre regulatória brasileira é que ela é privilégio nosso. Como dito acima, a Europa inteira escala há décadas sem nunca ter precisado de lei para isso. O Chile e a Argentina também. As pessoas compram equipamentos certificados por órgãos internacionalmente reconhecidos (como a UIAA – Union Internationale des Associations d’Alpinisme e guias credenciados pelas próprias associações e federações de montanhismo, sem que o governo tenha que obrigá-los a isso. Basta ter bom senso. Isso tem dado certo no mundo todo. Por que aqui não daria?
A resposta, acredito, está em dois pontos. Antes de mais nada, com certeza, já há quem tenha visto nisso uma possibilidade de polpudos ganhos financeiros. Imaginem, considerando-se o crescimento que tais esportes têm apresentado no país, o quanto ganhará quem for “certificado pelos órgãos competentes” para certificar os outros? Dependendo dos contatos que uma ou outra pessoa tiver no Legislativo, pode acabar monopolizando esse serviço. Serão os novos “tabeliões do rapel”. Inventarão selos e etiquetas — pagas, evidentemente — a serem adesivadas em toda espécie de equipamentos e carteirinhas, sob pena de multa. Trata-se, portanto, de uma grande oportunidade de favorecer alguém, que não o público em geral.
A outra vertente dessa explicação passa pelo fato de que por aqui, freqüentemente, se confundem os esportistas com os ditos “farofeiros”. Quem nunca foi à Floresta da Tijuca ou à Pedra do Sino e teve que dividir a trilha ou o local de acampamento com um batalhão de gente de calças e jaquetas camufladas — cuja única função é dificultar a sua localização em caso de acidente —; um ou mais rádios de pilha tocando, alto, música de baixa qualidade; algumas garrafas de vinho vagabundo ou de cachaça — que nunca são levadas de volta nas mochilas camufladas em que vieram —; e, para variar, com o berreiro?
Essas mesmas pessoas — que gritam no rapel, no mirante ou quando querem se comunicar em geral — costumam ser, muitas vezes, responsáveis pela impressão de que os montanhistas (no sentido mais amplo do termo, por favor) precisam de leis que os mantenham sob controle. Isso não é verdade.
Dificilmente um esportista de montanha sério será encontrado rapelando um viaduto. Dificilmente ele comprará equipamentos que não obedeçam às mais rigorosas normas internacionais de segurança ou fará cursos com quem tem conhecimento duvidoso da matéria. Dificilmente um esportista sério, de qualquer um desses esportes, será responsável por algum dano ambiental mais grave. É mais fácil ele ser encontrado em mutirões de limpeza ou de reflorestamento.
Os praticantes sérios desses esportes, na esmagadora maioria das vezes, estão envolvidos em grupos que passam horas e horas por mês discutindo a ética de suas próprias atividades — algo produtivo mesmo que, nem sempre, haja consenso. Marcam reuniões para isso. Debatem coisas como “comportamento de mínimo impacto” nas montanhas e trilhas. Fazem isso por livre e espontânea vontade.
Essas pessoas são auto-regulatórias; não precisam de regulamentação. Precisam de incentivo. Tratemos de regulamentar a farofa.
Leia também

Declaração de Barcelona define novos rumos para a Década do Oceano
O encerramento do evento oficializou a primeira conferência da Década do Oceano de Cidades Costeiras que ocorrerá em 2025 na cidade de Qingdao, na China. →

Marina Silva é uma das 100 pessoas mais influentes de 2024, segundo a Time
Selecionada na categoria “líderes”, perfil de Marina destaca a missão da ministra em prol do combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Ela é a única brasileira citada na lista de 2024 →

Em audiência pública na ALMG, representantes da UFMG alertam para impactos da Stock Car
Reunião contou com reitora e diretores da universidade, mas prefeitura e organizadores da corrida faltaram; deputada promete enviar informações a patrocinadores da Stock Car →